24 Januar, 2019 Lisboa fora de horas
Ela chama-se Juliana, é brasileira e custa cem euros...
Quinta cerveja. Ela chama-se Juliana, é brasileira e custa cem euros. Pela primeira vez na noite decidiu sentar-se. Naquela zona, perto do balcão, fica exposta a pelo menos cinquenta pares de olhos. Não é que nas outras zonas isso não aconteça mas, pelo que percebi, poucas se aventuram naquele beco sem saída onde marinam os desesperados, os alcoólicos, os tesos ou os simplesmente desinteressados.

Eu estou a beber, não me sinto confortável e preciso de respirar. Por isso, fumo um cigarro atrás do outro.
Digo-lhe imediatamente que não tenho esse dinheiro e que me parece difícil alguma vez pagar. Nunca paguei para estar com uma mulher, porque... Mas então percebo que deixei de saber a razão. Nem sequer completo a frase. Afinal, o que é que acho difícil pagar? Uma puta? Uma hora? A humilhação machista do “ter que pagar”? Olho para os olhos de Juliana. Até a olhar directamente nos olhos ela era apenas uma entre tantas outras Julianas que habitam a noite e os seus lugares lânguidos de engate. Mas assim, passa a ser a minha Juliana particular. E não consigo deixar de sentir por ela algo que imediatamente se contagia por todas as outras: admiração pela coragem, reconhecimento do brio, um respeito sem fim.
Digo-lhe que estou ali pela experiência, que procuro sobretudo “a história”, que é o culminar de uma deambulação exploratória da “lama”. São cinco da manhã.
Ela sorri-me com uma verdade que me parece imensamente maior que a minha. Chega a parecer-me triste. Cansada não, garante. E eu sinto-me completamente desmascarado. Mas continuo a não ter o dinheiro.
Uma hora antes, quando encostou as nádegas e as ajeitou com uma precisão de relojoeiro à minha cintura, roçando uma dança ensaiada de costas longas e ventre inteiro, confesso que não fiquei impressionado. Lembro-me que me ocorreu a ideia: és tão bonita que nem me dás tusa!
Sentados ao balcão tudo muda. Ela torna-se tangível, há qualquer coisa de real que antes não se via.
Diz-me, pela terceira vez, que adora homens de barba, que a minha barba é linda. Não tenho o dinheiro e por isso tendo a matar a conversa. Lembro-a que está a trabalhar. Sou eu que digo:
– Já deves ter percebido... Comigo não fazes a noite.
Vêm homens falar com ela. Ela sorri sempre, conversa. Mas fica. Eu gasto as senhas da cerveja, observo o redor. Uma negra fabulosa, um pouco mais negra que Juliana, sorri-me um olhar de 500 euros. Sinto, aos poucos, que o ambiente me controla.
Juliana tem um sorriso admirável, daqueles que um escritor descreveria como de marfim. Ébano e marfim. Um daqueles contrastes que nos fazem acreditar num sentido oculto do universo. Quando fala, os olhos dela ocupam-se totalmente dos meus. Não consigo evitar uma crescente vontade de estar perto dela. E, curioso, apesar de começar a sentir desejo, não tenho necessidade de observar ao pormenor os seus outros atributos físicos. Uma rápida passagem pelo seu decote apenas me confirma a sua juventude. Mais nada.
Falamos disto e daquilo. Demora-se. Demoramo-nos... Acabo por dizer:
– Sabes, há bocado, se eu tivesse dinheiro, já não estavas aqui. Aliás, acho incrível como é que ainda estás aqui. Por mim, eras a primeira a sair.
Não sei explicar o olhar de Juliana. A cor dos olhos muda a cor dos olhos. Confiamos cegamente nos olhos e eles parece que... Sinto-me atrapalhado e heróico ao mesmo tempo.
– Sabes, acho que se tivesse que foder alguém agora, já não podias ser tu...
Não sei explicar o olhar de Juliana. Parece triste. Cansada não, garante. Levanta-se:
– Vou ali falar com um amigo...
Sétima cerveja. Que horas são? Não interessa. Estou a vestir o casaco. O meu amigo, que me levou ali e pagou a minha entrada, está a desistir duma loira pequena – ele dá para as petit – que leva cento e cinquenta e não faz anal. De qualquer maneira, diz ele, acha que não está inspirado.
Não sei porquê, dou uma última vista de olhos ao lugar. Sei o que procuro. Tenho tabaco e decido comprar mais. Mas não compro. Não sei de onde surge aquela mão, só sei de quem é.
– Vem comigo!
Tenho tempo de sorrir ao meu amigo, que é meu amigo e me sorri de volta.
Não sei explicar o olhar de Juliana. A cor dos olhos muda a cor dos olhos, é a única coisa que sei.
Pergunto-lhe, no táxi, se sabe o que diz o diabo ao taxista, sabendo que não pode saber, porque a piada é minha.
– Leve-me por maus caminhos!
Ela ri tão deliciosamente, viciosamente, tão cúmplice, que quase lhe salto para cima no táxi em andamento. É quando o taxista percebe a piada e diz, lacónico:
– Vou anotar essa.
Não me lembro do quarto. Lembro-me dos olhos. Não nos despimos, arrancamos a roupa um ao outro.

Mas esse primeiro instantâneo animal não tem sequência. O recontro, uma vez consumado, dá lugar à fotografia bucólica de um par de corpos estranhos que se deita lado a lado numa cama serena.
Estamos nus, magros, suados dos poros e dos espaços lotados – não tomámos duche. Gosto do cheiro do corpo que o detergente mata. Gosto do cheiro gasto da noite. Gosto do cheiro cansado dela.
Estamos deitados, não me lembro do corpo. Lembro-me dos olhos.
Estamos tão perto que parece que nos respiramos. Estamos tão urgentes que não deixamos de nos olhar.
As nossas mãos têm uma vida à margem de nós, percorrem tudo, rastreiam tudo. Sentimos a tentação de cerrar os olhos mas percebemos que é exactamente o que estamos a tentar não fazer.
Tenho dois dedos enfiados na cona dela e um no cu – tento sempre e guardo-o sempre para mim próprio: não há cheiro mais soberbo que o do cu duma mulher!
Juliana geme em silêncio, não há outra maneira de o dizer. Ela tem a minha picha na mão e começa a espremê-la, literalmente.

Navegamos nesses gestos sem nunca desviarmos o olhar. E não sei quanto tempo passou, um segundo ou uma hora, quando acontece a luz perfurante duma fresta do estore e a manhã entra no quarto com Juliana a contorcer-se inteiramente viva, animal e abundantemente líquida nas minhas mãos.
Estamos nus, magros, suados – não tomámos duche... O cheiro da sua pele negra, depois do orgasmo, é ainda mais intenso. Lembro-me dos olhos.
– Não te vieste?
Sorrio-lhe, porque não consigo esquecê-la. Costumo ser tão bom a vir-me depressa como a nunca mais me vir, mas nada disto é vulgar. Continuo a olhá-la como se não soubesse, como se ninguém me avisasse que ali era o sexo, mas a minha mão continua a esfregá-la, e ela continua a gemer apenas com os olhos, e é então, no escuro dessa luz, na convergência de toda a irrealidade, que me venho na mão dela, na barriga dela, na pele dela... Mas, sobretudo, parece-me, nos olhos dela.
Sorrio-lhe, porque não consigo esquecê-la. Não sei se alguma vez amei tão consideravelmente uma mulher desconhecida. Por isso, esqueço-a de imediato. Penso, só para mim: há apenas um tipo de amor que nos faz feliz e esse amor não existe.
Não sei explicar o olhar de Juliana. Sei que naquele instante os nossos olhos tiveram a mesma cor. E é ela que diz, na voz caramelizada do seu brasileiro nordestino:
– Como não? O amor é isso!
A manhã instala-se connosco nos lençóis humedecidos, no trópico dos nossos desejos. Passámos a última hora a confidenciar tudo sobre as nossas vidas no mais eloquente silêncio. E, quando damos por nós, por não haver mais para onde ir uma vez atingido o pináculo da intimidade, desatamos a foder.
Fodo-a na cona enquanto lhe lambo o pescoço e os sovacos com uma leve penugem.

Depois fodo-a no cu enquanto lhe mordo a nuca.

Depois ela fode-me a mim, as pernas e os olhos bem abertos, a dar às ancas no ritmo que lhe convém.

O cheiro da fricção dos nossos sexos atinge-me as narinas como a munição disparada de uma arma, um canhão com a boca toda aberta, boca de cona negra adornada de lindos cabelos encaracolados.
Juliana arranha-me o peito. Iniciou um ciclo orgásmico e vem-se cada vez que altero o ritmo ou faço um movimento diferente. Vem-se repetidamente em cima de mim, comigo dentro dela, como se não fosse capaz de parar. Até que, eventualmente, pára. Ergue ligeiramente as ancas, tirando-se do meu caralho que parece fumegar, e continua a foder no ar, roçando a cona apenas ao de leve na minha glande. Então solta um gemido arrastado de onça e um líquido abundante escorre de dentro dela, transparente e viscoso, com um cheiro intoxicante a flores carnívoras.
A visão daquela catarata é demais para a minha imaginação. Tiro apressadamente o preservativo e começo a esguichar em traços verticais e intermitentes uma quantidade industrial de esperma, riscando de branco o dourado escuro da sua pele.

Depois, não sei exactamente porquê, começamos os dois a rir às gargalhadas.
No quarto não é dia nenhum, mas lá fora o domingo começa serenamente a pôr a cabeça de fora. Exaustos, mas saciados, perdemos o sono. E se não dormimos, sabemos que só há um caminho a seguir.
Não nos despedimos de uma só vez. Não tomamos duche. Ela vai para casa e eu quero conservar o cheiro dela no meu corpo. Vamo-nos despedindo enquanto nos limpamos e vestimos a roupa lentamente.
Não lhe pergunto se alguma vez a irei voltar a ver. E Juliana não me dá o número de telefone para o caso de eu querer estar com ela outra vez. Vestimo-nos e olhamos simplesmente um para o outro como se não houvesse outra coisa a fazer.
Mas há. Há algo que eu não quero, não consigo deixar de fazer. É o meu derradeiro orgasmo no encontro do nosso prazer.
– Vem comigo ao multibanco.
– Porquê?
– Preciso de te pagar.
Armando Sarilhos
Armando Sarilhos
O cérebro é o órgão sexual mais poderoso do ser humano. É nele que tudo começa: os nossos desejos, as nossas fantasias, os nossos devaneios. Por isso me atiro às histórias como me atiro ao sexo: de cabeça.
Na escrita é a mente que viaja, mas a resposta física é real. Assim como no sexo, tudo é animal, mas com ciência. Aqui só com palavras. Mas com a mesma tesão.
Críticas, sugestões para contos ou outras, contactar: armando.sarilhos.xx@gmail.com

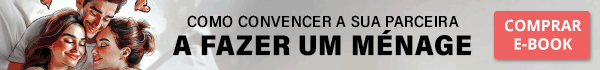







 Interview mit Escorts
Interview mit Escorts Tipps & Kuriositäten
Tipps & Kuriositäten Gesundheit & Sexleben
Gesundheit & Sexleben Sex Weltnachrichten
Sex Weltnachrichten Tales & Erotische Fantasien
Tales & Erotische Fantasien Sexy Videos
Sexy Videos Sexshops und Vergnügen
Sexshops und Vergnügen